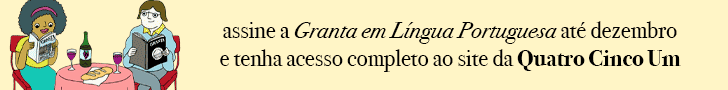O ruidoso despertar das ruas árabes
Crescem as manifestações populares contra Tel-Aviv e o Ocidente. Washington as ignora e aposta na normalização. Mas desta vez pode ser diferente. País perde espaço para China e Rússia e passa a ouvir “não” dos próprios governantes locais
Publicado 30/04/2024 às 20:18 - Atualizado 30/04/2024 às 20:23

Por Marc Lynch, no Foreign Affairs | Tradução de Glauco Faria
Desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, o Oriente Médio tem sido sacudido por protestos em massa. Os egípcios se manifestaram em solidariedade aos palestinos, correndo grande risco pessoal, e iraquianos, marroquinos, tunisianos e iemenitas saíram às ruas em grande número. Enquanto isso, os jordanianos romperam com limites de longa data ao marchar em direção à embaixada israelense, e a Arábia Saudita se recusou a retomar as negociações de normalização das relações com Israel, em parte devido à profunda fúria de seu povo quanto às operações israelenses na Faixa de Gaza.
Para Washington, a avaliação é de que nada dessa mobilização é realmente importante. Os líderes árabes, afinal de contas, estão entre os mais experientes praticantes de realpolitik do mundo e têm um histórico de ignorar as preferências de seu povo. Os protestos, embora grandes, têm sido controláveis. O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak e outros líderes há muito tempo incentivam os protestos sobre o tratamento dado aos palestinos, permitindo que seu povo desabafasse e direcionasse sua raiva para um inimigo estrangeiro, em vez de contra a corrupção e a incompetência internas. Com o tempo, ou pelo menos é o que diz o argumento, os combates em Gaza terminarão, os manifestantes furiosos voltarão para casa e seus líderes continuarão a lutar por interesses próprios, uma atividade na qual eles são excelentes.
Os formuladores de políticas externas dos EUA também têm um longo histórico de desconsiderar a opinião pública no Oriente Médio – a chamada rua árabe. Afinal, se os líderes autocráticos estão dando as ordens, então não é necessário dar importância ao que os ativistas furiosos gritam ou ao que os cidadãos comuns dizem aos pesquisadores ou à mídia. Como não há democracias no Oriente Médio, não é necessário dar importância ao que pensam as pessoas fora dos palácios. E, apesar de toda a sua conversa sobre democracia e direitos humanos, Washington sempre se sentiu mais confortável lidando com autocratas pragmáticos do que com multidões que considera irracionais e extremistas. Raramente faz uma pausa para considerar como isso pode contribuir para seu histórico desanimador de fracassos políticos.
A disposição dos Estados Unidos de ignorar as preocupações populares é reforçada pela lembrança de 2003, quando a opinião pública árabe foi totalmente contra a invasão do Iraque liderada pelos EUA, mas a maioria dos líderes da região cooperou com a invasão e nenhum tomou medidas para se opor a ela. Apesar de décadas de frequentes protestos em massa contra as ações israelenses em Gaza e na Cisjordânia, a Jordânia e o Egito mantiveram tratados de paz com Israel, e o Egito até participou ativamente do cerco a Gaza. Na verdade, a complacência dos EUA aumentou à medida que as esperadas erupções de raiva popular – por exemplo, a mudança da embaixada dos EUA para Jerusalém ou o bombardeio do Iêmen – não se concretizaram. A convicção de Washington foi brevemente abalada pelas revoltas árabes de 2011, mas voltou com força total quando as autocracias reafirmaram o controle nos anos seguintes.
Isso parece ser o que os Estados Unidos e a maioria dos analistas de políticas esperam desta vez também. Quando os bombardeios finalmente terminarem, as multidões voltarão para suas casas e encontrarão outros motivos para se irritar, e a política regional poderá voltar ao normal. Mas essas suposições refletem um mal-entendido fundamental sobre como a opinião pública é importante no Oriente Médio, bem como uma leitura profundamente equivocada do que realmente mudou desde as revoltas de 2011.
Conversa fiada
O termo “rua árabe” é usado pelos formuladores de políticas para reduzir a opinião pública regional às reclamações de uma multidão irracional, hostil e emotiva que pode ser apaziguada ou reprimida, mas que não tem preferências ou ideias políticas coerentes. A expressão tem raízes profundas no domínio colonial britânico e francês e foi adotada pelos Estados Unidos quando eles entraram na Guerra Fria e passaram a acreditar que a educação e o capitalismo são capazes de transformar o Oriente Médio à imagem do Ocidente. Essas ideias sustentaram a política de Washington de cooperar com ditadores árabes que conseguiam controlar seu povo. Isso convinha aos líderes árabes, que podiam desviar a pressão ocidental sobre questões como Israel ou democratização, apontando para a ameaça de revoltas populares e para os bichos-papões islâmicos que aguardavam para tomar o lugar deles.
Antes de 2011, o ponto alto do conceito de rua árabe ocorreu durante a chamada guerra fria árabe da década de 1950, quando líderes populistas pan-árabes obtiveram grande sucesso na mobilização das massas contra os aliados conservadores do Ocidente em nome da unidade árabe e do apoio aos palestinos. A visão de milhares de manifestantes furiosos respondendo aos discursos radiofônicos do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, saindo pelas ruas de países como a Jordânia, impressionou os formuladores de políticas ocidentais. Washington, em particular, concluiu que a rua árabe era perigosa, criando aberturas para os soviéticos. Não deveria se discutir a respeito destes povos, mas sim controlá-los pela força. Muito tempo depois do fim da Guerra Fria, essa percepção perdurou, embora se baseie em um mal-entendido básico da política árabe e continue a orientar a política dos EUA para o Oriente Médio, bem como muitas análises políticas da região. Sempre foi mais fácil descartar o apoio árabe aos territórios palestinos como algo enraizado em um antissemitismo atávico – ou ignorar a fúria pública contra as políticas dos EUA como algo cinicamente estimulado por políticos – do que levar a sério os motivos da raiva dos árabes e encontrar maneiras de lidar com suas preocupações.
Essa ideia da rua árabe mudou um pouco na década de 1990 e na década seguinte. A televisão por satélite, especialmente a Al Jazeera, cristalizou-se nessas décadas e moldou uma opinião pública pan-árabe. O surgimento de pesquisas sistemáticas e científicas de opinião pública na década de 1990 proporcionou nuances consideráveis sobre variações nacionais, mudanças de atitudes em resposta a eventos e avaliações sofisticadas das condições políticas. O surgimento das mídias sociais permitiu que uma grande variedade de vozes árabes rompesse o controle da mídia e destruísse estereótipos por meio de sua análise não mediada e envolvimento interativo. Após o 11 de setembro, Washington se esforçou muito em uma guerra de ideias, criada para combater ideais extremistas e islâmicos em toda a região, uma abordagem que, embora equivocada, exigiu um investimento significativo em pesquisas de opinião e atenção cuidadosa à mídia árabe e às mídias sociais emergentes. Mas, então, as revoltas de 2011 abalaram a complacência geral sobre a estabilidade dos autocratas da região, mostrando que as vozes do povo precisavam ser ouvidas e levadas em consideração.
Os autocratas tremem, mas sobrevivem
A memória das revoltas de 2011 ainda paira sobre todos os cálculos de estabilidade do regime no Oriente Médio atual. Os resultados desses eventos revolucionários trouxeram lições variadas. A rápida disseminação dos protestos que ameaçavam o regime da Tunísia por praticamente toda a região mostrou que a suposta estabilidade das autocracias árabes era, em grande parte, um mito. Por um breve momento, deixou de fazer sentido para Washington ignorar as sutilezas da opinião pública árabe ou aceitar as garantias de governantes árabes cansados. As revoltas não foram simplesmente a erupção de uma rua árabe insensata. Em vez disso, os jovens revolucionários que capturaram o espírito da época articularam críticas ponderadas e incisivas aos autocratas que desafiavam, e até mesmo os islamitas em seu meio falavam a linguagem da liberdade e da democracia. Inicialmente, os governos ocidentais correram para se envolver com esses jovens líderes impressionantes e tentaram apoiar seus esforços para promover transições democráticas e sistemas políticos mais abertos.
Mas essas lições foram rapidamente esquecidas quando os regimes árabes recuperaram o controle por meio de golpes militares, engenharia política e ampla repressão. Os autocratas de toda a região ajudaram outros autocratas a restaurar seu poder, e o Ocidente simplesmente ficou de braços cruzados. Os Estados Unidos, por exemplo, não agiram quando a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e outros estados do Golfo apoiaram a repressão violenta aos protestos do Bahrein em 2011 e deram apoio financeiro e político ao golpe militar egípcio de 2013. A restauração autocrática que se seguiu trouxe um nível de repressão que foi muito além do que existia antes de 2011, com regimes em toda a região esmagando e silenciando a sociedade civil, temendo qualquer ressurgimento da oposição. A vigilância digital ajudou essas medidas repressivas, dando aos regimes uma compreensão sem precedentes das opiniões de seus cidadãos e do potencial de surgimento de movimentos de oposição.
A restauração autocrática resultou rapidamente no retorno de um modelo antigo de política externa ocidental baseado na cooperação com elites autocráticas e na ignorância das opiniões do público árabe. Em nenhum outro lugar isso pode ser visto com mais clareza do que na política dos EUA em relação ao conflito israelense-palestino. De 1991 até recentemente, Washington conduziu um processo de paz, em parte porque os líderes dos EUA acreditavam que oferecer uma solução justa para os palestinos era essencial para legitimar a primazia dos EUA. O governo do presidente Donald Trump, no entanto, simplesmente ignorou a opinião pública palestina e árabe ao intermediar os Acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel e Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, sem resolver o conflito israelense-palestino. Os acordos também incluíram o Sudão e o Marrocos, depois que Washington concordou em reconhecer sua soberania sobre o Saara Ocidental.
O presidente dos EUA, Joe Biden, apesar da promissora retórica de campanha, em vez disso, abraçou de todo o coração a abordagem de Trump para o Oriente Médio, pressionando pela normalização árabe-israelense e ignorando a democracia e os direitos humanos. Após sua posse em 2021, Biden abandonou suas promessas de colocar os direitos humanos em primeiro lugar e tornar a Arábia Saudita um pária pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi e sua guerra no Iêmen. Em vez disso, ele se esforçou com um desespero indecoroso para concluir as políticas de Trump de normalizar as relações com Israel sem resolver a questão palestina e evitar os ganhos chineses na região ao garantir um acordo com a Arábia Saudita. Não é por acaso que o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro coincidiu com a pressão total do governo Biden por um acordo de normalização saudita em meio a provocações sem precedentes dos colonos israelenses na Cisjordânia. Havia muitos sinais de descontentamento árabe com a normalização e inúmeros avisos de uma explosão iminente em Gaza, mas Washington os ignorou como apenas mais um exemplo de deferência equivocada a uma rua árabe que acreditava que seus aliados autocráticos poderiam controlar. Estava errado.
Isso ocorre porque a opinião pública é importante no Oriente Médio. A política é importante, mesmo em autocracias e, no Oriente Médio, as forças políticas se movem perfeitamente entre o doméstico e o regional. Os líderes bem-sucedidos precisam aprender a dominar as duas dimensões do jogo. Parte da garantia de sua sobrevivência é saber como responder aos protestos, e a resposta depende da questão em pauta. Os diplomatas ocidentais dão ouvidos aos governantes árabes que não sacrificariam nem mesmo interesses menores em prol de um bem maior se pudessem se safar. É claro que o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, faria um acordo com Israel se achasse que isso serviria aos interesses de seu governo e que poderia absorver a ira do público sem muitos riscos. Mas esse é um grande “se”. O príncipe Mohammed e outros líderes árabes se preocupam com o que pode levá-los a serem derrubados. Na maioria das vezes, eles se preocupam mais com uma coisa sobre todas as outras: permanecer no poder. Isso significa não apenas evitar protestos em massa que obviamente ameaçam o regime, mas também estar atento às possíveis fontes de descontentamento e reagir conforme necessário para evitá-las. Com quase todos os países árabes fora do Golfo sofrendo problemas econômicos extremos e, consequentemente, exercendo a máxima repressão, os regimes precisam ser ainda mais cuidadosos ao reagir a questões como o conflito israelense-palestino.
Enquanto isso, os líderes árabes também estão concentrados no jogo político regional e competem ferozmente para se posicionarem como os defensores mais eficazes de suas identidades e interesses compartilhados. É por isso que, muitas vezes, eles disfarçam até mesmo as ações mais cínicas e egoístas como se estivessem servindo aos interesses dos palestinos ou defendendo a honra árabe. As ações recentes dos Emirados Árabes Unidos, como quando o país tentou justificar os Acordos de Abraão alegando ter impedido a anexação planejada do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu à Cisjordânia, são um exemplo disso. Os líderes árabes se preocupam com o que lhes dá vantagem ou os ameaça no jogo intensamente competitivo da política regional – seja contra outros concorrentes árabes por influência ou contra outras potências, inclusive a Turquia e o Irã. A dimensão regional da concorrência tornou-se ainda mais intensa na última década, pois as revoltas árabes destacaram como os acontecimentos políticos em toda a região podem colocar em risco a sobrevivência de qualquer regime doméstico. Em especial, o Catar competiu fortemente com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos nas transições políticas e guerras civis na Síria, na Tunísia e em outros lugares, buscando moldar a opinião pública, mas também respondendo a ela.
A reação
Hoje, é óbvio que os Estados Unidos erraram ao supor que poderiam ignorar a opinião pública árabe sobre o tratamento dado aos palestinos. Os árabes não perderam, de fato, o interesse na questão. E os regimes árabes não estabeleceram, de fato, um controle mortal sobre a mobilização pública. Quase todos os regimes agora têm seus públicos extraordinariamente mobilizados pelo que consideram ser a campanha genocida de Israel contra Gaza e um novo programa de deslocamento e ocupação. O nível resultante de mobilização e indignação pública excede a fúria de 2003 com a invasão do Iraque pelos EUA e está claramente influenciando o comportamento dos regimes da região. De fato, o grau e o poder da mobilização popular podem ser vistos não apenas na mídia e nas multidões nas ruas, mas também nas críticas atípicas a Israel e aos Estados Unidos feitas por regimes que precisam não errar para sobreviver. Até mesmo o Egito, um parceiro próximo dos EUA, ameaçou congelar os Acordos de Camp David se Israel invadir Rafah ou expulsar os habitantes de Gaza para o Sinai.
A mídia árabe, que havia sido muito fragmentada e polarizada politicamente durante as guerras políticas intra-regionais da década anterior, se uniu quase inteiramente em defesa de Gaza. A Al Jazeera está de volta, revivendo seus dias de glória por meio de uma cobertura ininterrupta dos horrores de lá, mesmo que seus jornalistas tenham sido mortos em ação pelas forças israelenses. A mídia social também está de volta – não o cadáver do Twitter ou os lamentavelmente censurados Facebook e Instagram, mas sim aplicativos mais novos como TikTok, WhatsApp e Telegram. As imagens e os vídeos que estão surgindo de Gaza superam a interpretação oferecida por Israel e pelos Estados Unidos e contornam facilmente a cobertura suave dos meios de comunicação ocidentais. As pessoas veem a devastação. Todos os dias elas se deparam com cenas de tragédias inacreditáveis. E elas conhecem as vítimas diretamente. Elas não precisam da mídia para entender as mensagens de WhatsApp de habitantes de Gaza aterrorizados ou para ver os vídeos horríveis que circulam amplamente no Telegram.
Ativistas e intelectuais árabes têm desenvolvido argumentos poderosos em relação à natureza do domínio de Israel sobre os territórios palestinos e esses argumentos estão entrando no discurso ocidental de novas maneiras. O caso que a África do Sul levou à Corte Internacional de Justiça, alegando um genocídio israelense em Gaza, introduziu muitos desses argumentos em circulação no Sul Global e nas organizações internacionais. Isso foi feito com referência não apenas às declarações dos líderes israelenses, mas também às estruturas conceituais sobre ocupação e colonialismo desenvolvidos por intelectuais árabes e palestinos. A guerra de ideias que os Estados Unidos procuraram travar no mundo muçulmano após o 11 de Setembro, alegando trazer liberdade e democracia para uma região atrasada, inverteu o curso, com os Estados Unidos na defensiva por causa de sua hipocrisia ao exigir a condenação da guerra da Rússia contra a Ucrânia e, ao mesmo tempo, apoiar a guerra de Israel contra Gaza.
Uma região à deriva
Tudo isso está acontecendo em uma era caracterizada, mesmo antes da guerra entre Israel e Hamas, pelo declínio da primazia dos Estados Unidos e pela crescente autonomia das potências regionais. Os principais Estados árabes têm buscado cada vez mais demonstrar sua independência em relação aos Estados Unidos, construindo relações estratégicas com a China e a Rússia e buscando suas próprias agendas em assuntos regionais. A disposição dos regimes árabes de desafiar as preferências dos Estados Unidos foi uma marca registrada da década anterior, quando os Estados do Golfo ignoraram as políticas americanas em relação à transição democrática no Egito, inundaram a Síria com armas, apesar da cautela de Washington, e fizeram lobby contra o acordo nuclear com o Irã. Essa disposição de desrespeitar os desejos dos Estados Unidos tornou-se ainda mais evidente após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nos últimos dois anos, a maioria dos regimes do Oriente Médio se recusou a votar com Washington contra a Rússia, e a Arábia Saudita se recusou a seguir a liderança dos Estados Unidos em relação ao preço do petróleo.
O apoio irrestrito de Washington a Israel em sua devastação de Gaza, no entanto, trouxe à tona a hostilidade de longa data em relação à política dos EUA e desencadeou uma crise de legitimidade que ameaça todo o edifício da primazia histórica estadunidense na região. É difícil classificar como exagero o grau em que os árabes culpam os Estados Unidos por essa guerra. Eles podem ver que somente as vendas de armas dos EUA e os vetos das Nações Unidas permitem que Israel continue sua guerra. Eles estão cientes de que os Estados Unidos defendem Israel por ações que são as mesmas pelas quais os Estados Unidos condenaram a Rússia e a Síria. A extensão dessa raiva popular pode ser vista no desligamento de um grande número de jovens trabalhadores de organizações não governamentais e ativistas de projetos e redes apoiados pelos EUA, construídos ao longo de décadas de diplomacia pública, um desenvolvimento citado por Annelle Sheline em sua renúncia ao cargo de oficial de relações exteriores do Departamento de Estado em março.
A Casa Branca ainda está agindo como se nada disso fosse realmente importante. Os regimes árabes sobreviverão, a raiva diminuirá ou será redirecionada para outras questões e, em alguns meses, Washington poderá voltar à importante questão da normalização israelense-saudita. É assim que as coisas têm funcionado tradicionalmente. Mas desta vez pode ser diferente. O fiasco de Gaza, em um momento de mudança do poder global e de alteração dos cálculos dos líderes regionais, mostra o quão pouco Washington aprendeu com seu longo histórico de fracassos políticos. A natureza e o grau da raiva popular, o declínio da primazia dos EUA e o colapso de sua legitimidade e a priorização dos regimes árabes em sua sobrevivência doméstica, bem como a concorrência regional, sugerem que a nova ordem regional estará muito mais atenta à opinião pública do que a antiga. Se Washington continuar a ignorar a opinião pública, estará condenando seu planejamento para depois do fim da guerra em Gaza.