A possível Primavera conta a Barbárie
Lutas pela Palestina alastram-se nos EUA e no mundo. Querem interromper o genocídio em Gaza, mas vão além. Repudiam um sistema que naturaliza a força bruta e a guerra de todos contra todos – para bloquear as próprias chances de haver humanidade
Publicado 03/05/2024 às 19:59 - Atualizado 03/05/2024 às 20:06

Por Sarah Babiker, no El Salto | Tradução: Antonio Martins | Imagem: Nina Berman
Angela Davis fala para a câmera e sorri: “Acredito que os estudantes sempre abriram o caminho”, comenta sobre os acampamentos em solidariedade a Gaza que surgiram na Universidade de Columbia e em muitos outros campi nos Estados Unidos. A histórica ativista celebra o uso do conhecimento adquirido em todas essas universidades de elite para ajudar a construir um mundo melhor, e diz que “finalmente a luta pela liberdade do povo palestino está sendo abraçada em todo o mundo”. Ela deixa outra mensagem: o que acontecer agora na Palestina determinará o futuro de todos.
As redes sociais fervilham há duas semanas com imagens de manifestações, acampamentos, gente em assembleia debatendo, ouvindo discursos, dançando dakbe [dança tradicional palestina]. Ao mesmo tempo, policiais reprimindo brutalmente estudantes e professores, ou sionistas tentando demonstrar que não se sentem seguros nas manifestações em favor da Palestina. Tudo isso acontece nos gramados de várias universidades norte-americanas, sendo Columbia onde tudo começou. Muitas dessas cenas lembram outras vividas há mais de uma década, no Occupy Wall Street, na Primavera Árabe ou no 15M. Mas o objetivo deste ciclo de mobilizações entre barracas e faixas é bem concreto: a solidariedade com o povo palestino e a luta contra o genocídio.
Enquanto isso, em Berlim, um acampamento resistiu por duas semanas em frente ao Reichstag [Parlamento], até ser desocupado na última sexta-feira. Tudo isso ocorre num contexto em que se proíbe um congresso sobre a Palestina, impede-se que líderes europeus como o ex-ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, entrem no país e até mesmo se comuniquem por videoconferência com pessoas dentro do território alemão, ou se proíbe o uso de línguas que não sejam o alemão ou o inglês nas mobilizações.
Nos Estados Unidos na Alemanha, no Reino Unido — onde as manifestações são massivas – e na França (onde estudantes da SciencePo de Paris organizavam um acampamento na última quarta-feira rapidamente desocupado pela polícia), os protestos crescem em um clima hostil para a crítica ao colonialismo israelense. Nas universidades da elite americana, kufiyas e bandeiras palestinas tomam a paisagem enquanto pessoas de todas as origens conversam, participam de eventos e discussões, fazem cursos de árabe, aprendem a dançar dakbe e, sobretudo, denunciam o genocídio. Ilustres judeus antissionistas como Miko Peled, o candidato à presidência dos EUA Cornel West, ou políticos democratas como Ilhan Omar ou a atriz e ativista Susan Sarandon, visitam os acampamentos e se juntam às manifestações. Sobreviventes do holocausto testemunham o que aconteceu e se recusam a permitir que essa memória seja usada para justificar outro genocídio.
O despejo brutal do primeiro acampamento que começou em 16 de abril, na Universidade de Columbia, só fez com que as ações se espalhassem, até se tornarem dezenas e chegarem a universidades no Canadá, no México, na França, na Alemanha e na Austrália. Às imagens das prisões em massa daquele dia seguiram-se outras que mostram a repressão contra estudantes e professores. Na sexta-feira, dia 26, ao desmantelar o acampamento em frente ao Reichstag, a polícia produziu outra série de imagens que alimentam a indignação diante da violência imposta aos cidadãos nacionais, para defender os interesses de Israel.
Circulam as exposições didáticas de como os veículos comerciais oferecem uma narrativa distorcida do que ocorre nas manifestações, como o artigo do New York Post em que se fala de “uma estudante judia esfaqueada no olho com uma bandeira palestina”, mas se mostra um vídeo em que nada parecido acontecie. As contínuas acusações de antissemitismo, ou de defender o Hamas, não estão impedindo a expansão dos acampamentos. As universidades de elite associadas à Ivy League como a própria Columbia, Yale ou Harvard, estão povoadas por uma nova geração de estudantes não disposta a perpetuar a cumplicidade dos EUA com Israel. Na sexta-feira, um vídeo mostrava estudantes tomando o prestigioso Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Quem compartilhou o post se perguntava: “Estamos diante de uma primavera antissionista?”.
Desinvestimento, boicote acadêmico, fim da repressão e anistia para as pessoas detidas — essas são as principais demandas dos acampamentos desde que começaram em Columbia. As ações policiais também não estão conseguindo dissuadir os manifestantes. Ao contrário, reforçam as mobilizações: “Parece que a repressão está recrudescendo cada vez mais. Mas quanto mais nos reprimem, mais nos rebelaremos”, disse um membro do Students for Justice in Palestine à TV alternativa norte-americana Democracy Now.
A Universidade mostrou estar tão dividida quanto a sociedade. Enquanto a maioria do corpo docente apoia os protestos, suas elites pedem repressão, expulsam em massa estudantes e suspendem as aulas. Ao fazê-lo, recebem as mesmas acusações que os partidos: curvarem-se à narrativa sionista, por dependerem do financiamento de seus lobbies, uma submissão que poderia reinstalar o macartismo nas universidades. O próprio primeiro-ministro israelense, Benyamin Netanyahu, pronunciou-se há alguns dias sobre os acampamentos nas universidades, reproduzindo o discurso de que são espaços antissemitas onde os judeus correm risco de vida e comparando os campi com os da Alemanha dos anos 30. A intervenção do mandatário israelense alimentou a percepção de que Israel está interferindo na política notr-americana, crítica condensada no irônico termo, “Estados Unidos de Israel”. A interferência sionista para que os Estados Unidos reprimam seus estudantes estaria ameaçando algo que os americanos consideram definidor de sua identidade nacional, a primeira emenda à Constituição, que garante o direito à livre expressão, à liberdade de imprensa e de manifestação.
O movimento nas universidades evidencia uma ruptura geracional nos Estados Unidos. Os mais jovens se mostram mais próximos da luta do povo palestino. Por outro lado, os movimentos interseccionais recuperaram uma tradição anticolonialista a partir da qual desconstroem as narrativas israelenses, unindo coletivos racializados que enfrentem o colonialismo racista e a supremacia. São movimentos e narrativas que preocupam fortemente os think tanks sionistas, como mostrava o relatório Navegando em Paisagens Interseccionais, publicado pelo Instituto Reut israelense e o Conselho Judaico para Assuntos Públicos há alguns anos. O mesmo texto dedica va atenção especial aos movimentos de judeus antissionistas e suas alianças com outros coletivos.
Por outro lado, as protestos também interpelam a identidade norte-americana, conectando os protestos com o movimento estudantil em 1968 contra a guerra do Vietnã, desmontando o relato que os enquadra como algo estrangeiro.
Muito drama
No momento em que o número de pessoas assassinadas por Israel desde 7 de outubro em Gaza supera 34.000, o mundo observa como centenas de corpos de crianças, mulheres e homens palestinos, alguns amarrados, outros enterrados vivos, são recuperados em valas comuns perto dos hospitais de Al Nasser ou Al Shifa, ou o exército sionista assassina símbolos como Shaima Refaat Alareer, a filha do poeta lastimado, e seu bebê. Mas são múltiplos os sionistas que insistem nas redes em sua condição de vítimas de um sentimento antijudaico nos campi. A multiplicação de vídeos mostrando o suposto antissemitismo nas mobilizações chega ao paroxismo. Tornaram-se virais um vídeo de uma mulher judia “arriscando” a se expor diante do acampamento e interpelando as pessoas presentes aos gritos:”sou judia, olhem para mim”, sem que ninguém lhe dê a mínima atenção. Ou o vídeo de outra mulher com seu cachorro, relatando que está cercada por manifestantes e não se sente segura como mulher judia, enquanto os ativistas insistem que ela pode ir onde quiser. Ou o professor de Columbia Shai Davidai, um conhecido sionista e provocador – alguns meios relacionam sua família com a fabricação de armas – denunciando o antissemitismo e comparando a universidade atual com a Alemanha nazista quando lhe negam a entrada no campus temendo confrontos.
Davidai chamaria os manifestantes judeus solidários com Gaza de Kapos, em referência aos judeus que colaboraram com os nazistas, fatos pelos quais foi denunciado. E por mais que movimentos como Jewish Voice for Peace ou Jews for Ceasefire estejam entre os organizadores dos acampamentos, e estes contem com a presença contínua de pessoas judias, isso não parece ser suficiente para desmontar a narrativa que confunde antissionismo e antissemitismo, uma estratégia repetidamente denunciada dessas organizações que apontam a instrumentalização do antissemitismo para justificar a repressão do movimento contra o genocídio. Junto com a estratégia de autovitimização, a criminalização dos que protestam é uma parte fundamental do relato. O líder da Liga Anti-Difamação chegou a qualificar as organizações Students for Justice in Palestine e Jewish Voice for Peace como representantes do Irã. Ao mesmo tempo, eles são acusados de estar a serviço de Soros e Rockefeller…

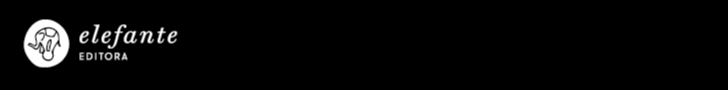
Nenhum comentário:
Postar um comentário